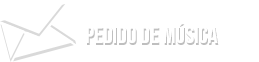
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
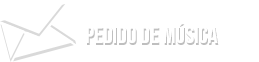
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
 Via: Lunetas
Via: Lunetas
Amar e odiar. Querer e não querer. Ser uma coisa e ser outra coisa. A existência simultânea de vontades opostas, junto com as dúvidas em relação à causalidade dos próprios desejos, se apresenta como um desenho apurado da subjetividade contemporânea, de acordo com a psicanalista e professora Maria Lucia Homem. Com a maternidade, não seria diferente.
Essa costura sentimental, que permeia as relações humanas, não poderia deixar de atingir também o exercício de ser mãe e pai.
“Ainda não digerimos a ideia de que o mundo e os nossos desejos não são tão simples e nem tão bipolares”, afirma.
Maria Lucia Homem é psicanalista, doutora pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisadora do Núcleo Diversitas, ligado à FFLCH-USP e professora da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). Atua principalmente com os temas: psicanálise, literatura, cinema, comunicação, subjetividade e o contemporâneo.
Em entrevista ao Lunetas, ela faz um resgate de diversas fontes que influenciam a construção da ideia do “amor materno” e fala sobre idealização e mercantilização da maternidade, trazendo uma análise sobre a subjetividade contemporânea e a complexidade dos desejos humanos.
Para a psicanalista, existe um limite sutil entre colocar a reprodução humana como dádiva ou como norma. O problema, segundo ela, “é transformar algo que nos deixa boquiabertos em uma ação que todos devem cumprir”. Mais do que isso, cumprir em estado permanente de gratidão e agradecimento. “É falso”, garante.
Maria Lucia Homem: Na verdade, não é possível afirmar. O que se pode dizer com alguma segurança é que, antes, buscávamos alguma determinação sobre aquilo que somos, fora de nós. Isto é, o grande ordenador do nosso ser era da ordem transcendental. A discussão entre natureza e cultura é uma grande questão, mas ela é uma bipolaridade, de certa forma, recente. As duas hipóteses trabalham com uma chave que podemos chamar de “laica”. Uma delas é a informação gravada na matéria, por meio de uma cadeia de proteína, DNA, etc. Ou seja, uma carga inscrita na bioquímica da célula que nos dá desejos. A outra hipótese é cultural, que é algo fora de nós, mas que tem algo a ver conosco. São as narrativas sociais, uma série de repetições de ações realizadas por muitas pessoas ao nosso redor e antes de nós, que trazem dentro de nós um desejo, por exemplo “quero ser mãe” ou “ser mulher é assim”.
Essas duas formas de pensar são herdeiras, mas, de alguma forma, contestam a lógica transcendental. É a ideia de que Deus ou os deuses – força que transcendente o humano e a materialidade – colocaram em nós determinações, sementes ou mandamentos. “Te criei homem, te criei mulher e, da junção destes, nasce a prole”.
Estamos há muito tempo, querendo saber, afinal, por que queremos o que queremos, por que não queremos o que não queremos ou, aquilo que é contemporâneo e talvez mais difícil: queremos ou não queremos?
Este é o desenho mais apurado da subjetividade contemporânea e de seus conflitos. Em última instância, é dizer que não sabemos muito bem o que queremos e nem a causalidade dos próprios desejos. É complexo, não existe uma única fonte.
Maria Lucia Homem: Não compartilho da teoria transcendental, como modo correto de viver. Essa narrativa não é o que a gente observa na clínica, no mundo ou a que escuto todos os dias. Não recebo homens e mulheres que apenas se buscam e se reproduzem. A história que se passa é muito mais passional e movimentada. Mas esse ainda é um dos grandes lutos da humanidade, que ainda estamos terminando de elaborar, uma ferida em aberto. Judith Buttler (filósofa que aborda questões do feminismo e da teoria queer) está dizendo isso há décadas. Mas ela passou pelo Brasil e pudemos perceber que não é uma discussão acabada, como achávamos. Antes dela, há um século, Freud disse algo mais radical que isso. E hoje, ainda estamos queimando livros. Em alguns lugares do mundo se mata por essas divergências. Ainda não digerimos a ideia de que o mundo e os nossos desejos não são tão simples e nem tão bipolares.
Não se pode negar que o corpo e a vida material estejam preparados para a reprodução. Todo mês estamos prontas. Isso existe. Mas como seres vivos e pensantes, damos sentido a isso. Entendemos e elaboramos as nossas vivências. E isso não está só relacionado a ser mãe. Nasce uma planta do pneu do carro, uma floresta tenta nascer na brecha do asfalto. Eu tento encarar como uma grande homenagem a essa dádiva que é a vida, um enigma incrível: no meio de carbono e cósmico, surgem moléculas que fazem a gente se reproduzir. O problema é idealizar e normatizar essa ideia. Existe um limite sutil entre colocá-la como graça ou como norma. É transformar algo que nos deixa boquiabertos em obrigatoriedade, ou ação que todos devem cumprir.
Maria Lucia Homem: Dizer que “não quer” é uma ofensa. Não elaboramos e nem conseguimos suportar muito bem a ideia da nossa radical liberdade e nem a do outro. Quando o outro faz o que ele quer e esse desejo é diverso do meu, é como se eu não suportasse essa decisão. Porque, de alguma maneira, coloca em cheque a minha própria decisão. No fundo, somos inseguros quanto a nós mesmos. Não sabemos se somos uma coisa ou outra, se queremos ou não.
Enquanto estamos todos juntos, eu tenho uma garantia imaginária de que sou e de que quero alguma coisa. É como o exército que metralha o desertor. ‘Tenho que matar o traidor, pois a vacilação dele é perigosa”, se pensa. Mas é perigosa, porque pode ser a vacilação do meu próprio desejo. O meu desejo está linkado com o desejo do outro e com o mais profundo de mim. Não nasce do nada. Nem de uma célula, nem do discurso e nem de Deus. É um imbricamento de várias forças. Poucas coisas se levam até o fim e poucas pessoas bancam o desejo radical. O mais comum é a vacilação contínua do desejo, que é frágil. Bobeou, mudou. A liberdade é difícil de ser sustentada e a liberdade do outro me ameaça. Sobretudo quando se trai esse pacto imaginário.
A mulher dizer que “não quer” é uma ofensa.
A idealização sempre fará a armadura do real. Ela coloca quadrados, colchetes e dá uma forma determinada para a vida, isto é, uma formatação correta do viver. O que estamos percebendo agora é que isso não existe, que ninguém sabe muito bem como viver. Estamos vacilando nas histórias individuais, oscilando sempre. Essa é a realidade mais comum na clínica. Mas, se o contemporâneo é a radicalização da liberdade, começamos a abrir comportas. E a errância fica mais clara. Como defesa, constrói-se a hiperidealização da vida.
A hiperidealização se coloca a serviço da nossa própria produção capitalista, com o marketing da maternidade e da paternidade.
É uma maquiagem: fazer lembrancinhas, colocar na porta do hospital, a marca de roupa tal, a cerimônia. Passando a festa de casamento, se inicia o chá de bebê, o batizado e outra série de rituais sociais. Essa prática é colocada dentro de um sistema de consumo. E toda a propaganda que se faz de você mesmo e da sua vida é circulável nas redes sociais.
Ter um filho fofo e lindo e que me emociona, acaba virando uma necessidade. O problema é que o serviço de uma idealização custa dinheiro e custa seu ser, além de ser falso.
Mesmo se for verdadeiro, dá trabalho fazer a maquiagem e o making off da cena de felicidade. É falso, não porque está chato ou terrível, pelo contrário. Falso é o estado permanente de graça, gratidão e de agradecimento.
Maria Lucia Homem: A maternidade não é nada mais do que uma nova relação. O que já é muito, pois uma real relação com outro ser humano é algo muito denso. Sobretudo com bebês e crianças, seres muito desconhecidos que funcionam em outro canal. Para começar, o bebê não fala, ele chora. Se a comunicação cotidiana já é difícil e gera mal entendidos, pelo estrutural da linguagem, imagine a relação com outro ser que é você e, ao mesmo tempo, não é você, que saiu da sua barriga e você idealizou tanto. Não tem como não entrar em conflito.
A maternidade nada mais do que uma nova relação
Existe uma tristeza, que pode desaguar em depressão ou surto e está relacionada com como se tornar adulto. Não é possível ser pai ou mãe sem ser adulto. A rigor, não é possível exercer a maternidade, a paternidade ou qualquer relação em torno da criança, sem elaborar o luto da nossa própria infância. Passamos de receptores do desejo do outro, de quem recebe cultura, para sujeitos da ação, tendo que lidar com a liberdade de transmitir. Como comer, como educar, se colocar diante do outro, como odiar o outro sem matar, como dialogar? E do lado dos filhos também a relação é ambivalente. É árduo e interessantíssimo. Muito complexo e, ao mesmo tempo, um desafio.