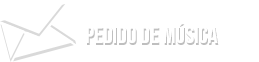
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
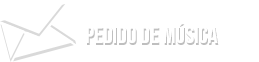
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

Por: Andrea Dworkin em “Vida e Morte” (2002)
Na tradição europeia, os homens tentaram impedir as mulheres de trabalhar por dinheiro, exceto como prostitutas. Tal como acontece com tantos ideais ocidentais que ainda perduram, as raízes desse modelo social podem ser encontradas na cidade-estado ateniense.
A mulher mais protegida era a mulher casada, uma prisioneira em sua própria casa, exceto, é claro, que a casa era tanto dela quanto uma gaiola pertence ao pássaro aprisionado. Ela não tinha direitos nem dinheiro. Ela, no entanto, tem responsabilidades. Era seu dever se submeter à relação sexual, ter filhos e administrar a casa. Sua virtude era mantida mantendo-a em cativeiro isolado. Ela estava fisicamente confinada à casa para garantir ao marido que seus filhos legais eram o direito biológico dele.
Qualquer mulher menos isolada era mais propriedade coletiva.
Mulheres estrangeiras tomadas como pilhagem eram escravas. As mulheres atenienses adultas que não eram casadas eram, em sua maioria, prostitutas de alta classe, companheiras sociais e sexuais de uma elite masculina ou prisioneiras de prostíbulos. As prostitutas de alta classe eram as únicas mulheres com alguma educação real ou qualquer liberdade de movimento.
A classe das cortesãs em muitas sociedades era o local social de realização das mulheres e prenunciava a mulher profissional do capitalismo avançado: altamente educada em comparação com outras mulheres, altamente qualificada, trabalhava por dinheiro e parecia exercer escolhas.
A esposa era a mulher privada na esfera privada (doméstica), protegida por dentro, legalmente amarrada ali. Interior significava confinamento, cativeiro, isolamento; valor alto; uma função reprodutiva e sexual; uma propriedade privatizada. A prostituta era a mulher pública — de propriedade pública. Ela morava fora de casa. Fora significava a quebra do corpo de alguém por mais de um, quantas e sob quais circunstâncias dependiam da proximidade ou distância da elite masculina — a pequena e rica classe dominante.
A prostituta de baixa classe, mantida em um bordel, estava fora dos limites do reconhecimento humano: um orifício, uma não-entidade, usada para uma função de massa.
Lá fora, dinheiro pago por atos e acesso. Lá fora, as mulheres estavam à venda. O interior significava que uma mulher estava protegida do comércio de sua espécie; o valor de uma mulher só era alto quando ela estava imune à contaminação de uma troca de dinheiro. Uma mulher que podia ser comprada era barata. Esse baixo valor significava seu baixo valor e definia a sua capacidade moral. Uma mulher era a sua função sexual; ela era o que ela fazia; ela se tornava o que era feito a ela; ela era o que ela era. Qualquer mulher nascida do lado de fora ou deixada do lado de fora ou chutada para o lado de fora merecia aquilo porque era o que havia acontecido com ela.
Por exemplo, o estupro de uma senhora roubou o seu valor dela, mas ela não era a parte ofendida. Seu marido ou seu pai haviam sido ofendidos, porque o valor de sua propriedade havia sido destruído. Uma vez usada, ela podia se tornar a esposa do estuprador, ou ela era expulsa, exilada para as margens, propriedade comum recém-criada.
Estupro poderia criar um casamento, mas mais frequentemente criava uma prostituta.
Quanto mais profundo o seu exílio, mais acessível aos homens ela era — quanto mais acessível, mais barata. Este era um fato econômico e um axioma ontológico, status e caráter determinados pelo grau de sua vulnerabilidade sexual.
No domínio público, em virtude do uso masculino, ela se tornava venal pela definição e pelo design masculinos, de acordo com o poder e a percepção masculinos.
Essas zonas — privada e pública, dentro e fora — continuam a sugerir uma verdadeira geografia da experiência feminina sob o domínio dos homens.
A insularidade da esfera doméstica para as mulheres tem sido valorada, honrada ou valorizada mesmo nas famílias pobres ou da classe trabalhadora; a honra de um homem é comprometida ou contaminada quando sua esposa trabalha fora de casa por dinheiro. A exclusividade de gênero do trabalho doméstico cria uma síntese literal e simbólica entre a mulher e a casa. Ela está ligada à casa tanto quanto a ele. O trabalho repetitivo e servil pelo qual ela é julgada –sua competência, sua devoção, sua feminilidade — estabelece a casa como seu habitat indígena. Sua tribo, mulher, carrega o gene da limpeza. Por natureza, ela esfrega e esfrega.
O macho vive sua vida mais ampla no mundo em geral, um caçador (ele traz o bacon para casa) com um imperativo biológico de espalhar seu esperma. Ele trabalha por dinheiro por direito, e com isso vem a liberdade de ação. Depois do trabalho, ele pode percorrer quilômetros, de bar em bar ou de biblioteca em biblioteca; ele vagueia pelo grande mundo. Quando finalmente ele entra no domicílio onde ela pertence como um trabalhador natural, não-remunerado, ele é mestre e convidado. Ele come, dorme, suja o chão.
Dentro da esfera doméstica, ela vive a melhor vida para ela. Demasiada associação com as obrigações da esfera doméstica tornam sua vida pequena demais para ele. Ele se ressente da domesticação de sua natureza selvagem; ele não aceitará os limites apropriados a uma vida feminina. Ele não fará trabalho doméstico. Ele não vai liberá-la disso. Sua associação com a casa é nativista e no mundo mais amplo, que é seu domínio real, ela é uma estrangeira indesejada, na melhor das hipóteses uma trabalhadora convidada com visto de curta duração, uma imigrante estigmatizada.
No local de trabalho, seu dinheiro é visto como para complementar o dele. Ele é o primeiro, ela é a segunda. Ela recebe menos do que os homens pelo mesmo trabalho, se os homens fizerem o mesmo trabalho; ela pode ser segregada em trabalho exclusivamente feminino, servil e de baixa remuneração. Geralmente, qualquer que seja o trabalho dela, ela faz menos do que seu marido, qualquer que seja o trabalho dele. Duas características do trabalho feminino são tão familiares que parecem ter toda a permanência da gravidade… ou são manchas de graviola?
Isso faz dela pobre em relação a ele; isso torna as mulheres pobres em relação aos homens. As mulheres, então, podem comprar menos abrigo, menos comida, menos liberdade que os homens. As mulheres, então, precisam de homens por dinheiro, e os homens precisam ter acesso sexual para fazer a troca.
A pobreza das mulheres significa que as mulheres permanecem sexualmente acessíveis aos homens, uma submissão considerada natural em vez de economicamente coagida.
A ética ateniense prevalece, porém camuflada. No casamento, as mulheres trabalhadoras são anexadas ao lado de dentro, principalmente pela limpeza. O ideal ainda é a cativa isolada, mas ela é cada vez mais reconhecida na fresta, já que tanto o isolamento quanto o cativeiro foram massivamente rejeitados pelas mulheres ocidentais.
Ideologicamente, a direita continua a promover a casa como o local natural, até exclusivo, da virtude para uma mulher. Os meios de comunicação, construídos para serem liberais em sua defesa social, continuam a insistir que trabalhar por dinheiro fora de casa torna as mulheres deprimidas, inférteis, estressadas, mais propensas a doenças cardíacas e morte prematura, enquanto todos os estudos continuam a mostrar o oposto (Faludi, Backlash, Crown, 1991; Barnett e Rivers, “O Mito da Mulher Trabalhadora Miserável”, Mulheres Trabalhadoras, fevereiro de 1992).
A esquerda, sempre visionária, continua cuidando da indústria pornográfica, tornando o mundo inteiro — rua, local de trabalho, supermercado — repelente para as mulheres.
E enquanto os homens usam pornografia para tirar as mulheres do mercado de trabalho, os defensores das liberdades civis defendem isso como liberdade de expressão (é, na verdade, como “Saia daqui, seu preto”); e alguns perguntam: “Por que uma mulher não pode ser mais parecida com um homem?” por exemplo, por que uma mulher não pode florescer em um local de trabalho saturado de pornografia?
Assim, cada tendência política verificada-e-verídica combina o melhor de sua teoria com o melhor de sua prática para forçar as mulheres a saírem do local de trabalho, de volta para a casa, com a porta trancada pelo lado de fora. Fingindo argumentar, eles conspiram. E se uma não te pegar, a outra vai.
E nós, as mulheres, é claro, permanecemos comoventemente ingênuas e a-históricas. Acreditamos que as mulheres estão no local de trabalho para ficar, embora os homens tenham projetado deslocamentos sociais maciços e brutais para manter as mulheres pobres e sem poder ou para nos devolverem a isso.
Na Europa, a matança em massa das bruxas ao longo de um período de 300 anos foi parcialmente motivada pelo desejo de confiscar sua propriedade, seu dinheiro — para tomar a riqueza que as mulheres tinham. Durante as Cruzadas, as mulheres assumiram a terra, o dinheiro, aspectos da soberania política masculina — e foram empurradas para fora e para baixo quando os homens retornaram. Nos Estados Unidos, é claro, Rosie, a Rebitadora, foi empurrada para fora da fábrica e para os subúrbios, desempregada. Nós temos dado passos gigantes ao longo da história, tentando avançar em direção ao homem enquanto ele estava de costas. Cada vez que conseguimos uma vantagem econômica, o homem encontra uma maneira de quebrar nossos joelhos.
Claro, será diferente desta vez; claro. Queremos salário igual para trabalho igual e esperamos, pacientemente, em silêncio; deixe-os fazer mais uma guerra. Especialmente, acreditamos que o local de trabalho é uma zona neutra em termos de gênero, um lugar justo; acreditamos que deixamos o gênero para trás, em casa, com o polimento no linóleo; acreditamos que uma mulher é uma pessoa, no trabalho, para trabalhar por dinheiro. Podemos usar nossas saias curtas, mas não esperamos que elas signifiquem alguma coisa, certamente não que os homens tentem procurar por elas. Embora saibamos que tivemos de lutar contra o preconceito para conseguir o emprego e obter o dinheiro, nos apresentamos ao trabalho como trabalhadoras, uma oração final pela justiça. Nós desistimos das ruas; nós desistimos de casa. Mas, desta vez, entramos no local de trabalho depois de algumas promessas legislativas de justiça, e acreditamos na lei, acreditamos na promessa. Nossa suposição imutável, sinônimo de nossa mais profunda esperança, é que não entramos no local de trabalho sexadas: o que significa, sempre em nossa experiência, como um alvo.
Mas os homens, cada um deles e todos eles escolásticos estudiosos, honram o velho mapa: uma mulher do lado de fora, uma mulher em público, é mais propriedade coletiva do que uma mulher do lado de dentro.
Cada mulher pode ser ligada ao marido pelos ritos e rituais da domesticidade, mas quando ela atravessa a periferia, sai pela porta, ela pertence àqueles que a vêem: um pouco ou muito, dependendo de como estão os homens inclinados.
Os olhos a possuem primeiro; o olhar que a olha para cima e para baixo é a primeira incursão, a primeira reivindicação pública. A mulher solteira habita este antigo território ainda mais plenamente. Presume-se que esteja lá fora procurando por ele, seja quem for — seu dinheiro, seu poder, seu sexo, sua proteção (para proteger de homens como ele).
Não há praticamente nenhum respeito por uma mulher sem um homem e praticamente não há reconhecimento de que a vida de uma mulher é completamente humana por si mesma. A liberdade humana tem ele como sujeito, não ela. Ela é sempre uma adjunta.
Sua integridade não é central para o imperativo dos direitos humanos, direitos políticos ou direitos econômicos. E, de fato, isso é o que importa. Pode ser tudo o que importa.
A mulher solitária deve encarnar para nós o que significa ser humano; ela deve significar todas as dimensões do valor humano; ela deve definir o padrão. A incapacidade de conceituar sua individualidade equivale a uma paralisia mórbida de consciência. Sem ela como um todo humano, por si só, um ser humano soberano, a predação de homens contra mulheres parecerá natural ou justificada. A tolerância dessas predações depende da vida da mulher ser, em sua essência, menor, menos significativa, predeterminada pelas necessidades de uma função sexual, que se forma formada pelas exigências da tirania sexual masculina, um conjunto redutivo e totalitário de demandas sexuais.
Então, do lado de fora, a mulher é pública no território masculino, uma zona de mãos dadas; sua presença ali é considerada uma declaração de disponibilidade — para sexo e assédio sexual.
Na rua, ela pode ser agredida verbalmente ou agredida fisicamente. Os ataques verbais e alguns ataques físicos são endêmicos no ambiente, uma emanação dada, aparentemente inevitável, do espírito masculino — do “Psiu, gostosa” para os seus seios ou, como eu vi uma vez, um homem de terno descendo a rua rapidamente e socando no estômago cada mulher jovem e bem-vestida pela qual ele passava — bam, bam! socos, duros, uma atrás da outra enquanto ele avançava — cada uma estava incrédula mesmo quando se dobrava, e ele se foi antes que eu pudesse entender o que eu tinha visto claramente nas ruas lotadas da hora de pico.
É uma ficção que os ataques masculinos contra as mulheres são punidos por lei. Na vida de qualquer mulher, a maioria não é.
A violência casual e aleatória do estranho tem quase tanta proteção quanto a violência íntima e sistemática do amante, marido ou pai. Nenhuma de nós pode resistir a tudo isso; estamos incrédulas quando cada nova agressão ocorre. Nós nos apressamos a esquecer. Não pode ter acontecido, dizemos; ou acontece o tempo todo, dizemos — é muito raro ser credível ou é comum demais para importar. Não seremos acreditadas ou ninguém se importará; ou ambos.
No local de trabalho, a mulher ouve a batida de seu coração não-sexado: eu sou boa nisso, ela diz. Ela está trabalhando por dinheiro, talvez por dignidade, talvez em busca de independência, talvez por um senso de vocação ou ambição. O homem percebe que ela está próxima dele, uma proximidade física e mental; abaixo dele, um arranjo político e econômico que é incontroverso; mais pobre do que ele, um fato com consequências para ela — ele percebe que ela está no mercado para barganhar, habilidades por dinheiro, sexualidade por avanço ou vantagens. As genitais dela estão perto dele, logo abaixo daquele vestido, no domínio público, seu domínio. O salário menor dela dá-lhe uma medida concreta de quanto mais ela precisa, quanto mais ele tem.
Na academia, um grau é riqueza. Em cada arena, ela é uma mulher estranha, não sua esposa ou filha; e a presença dela é uma provocação. Sua presunção é uma premissa do patriarcado: ela pode ser comprada; suas habilidades reais são habilidades sexuais; a sexualidade que lhe é inerente é para venda ou para permuta e ele tem direito a isso de qualquer maneira, um direito a esfregar ou lamber ou foder. Uma vez fora, ela está no reino da mulher prostituída. É um reino economicamente real. As pobres trocam sexo por dinheiro, comida, abrigo, trabalho, uma chance. É um reino criado pelo poder dos homens sobre as mulheres, uma zona de mulheres comprometida pela necessidade de dinheiro. Se ela está lá, ele tem direito a um pedaço dela. É um direito de longa data. Usar seu poder para forçá-la parece viril, masculino, para ele, um ato de conquista civilizada, uma expressão natural de uma potência natural. Seus sentimentos são naturais, de fato, inevitáveis. Seus atos são naturais também.
As leis do homem e da mulher substituem, com certeza, os regulamentos ou convenções do local de trabalho.
Todo cara normal, é um sociobiólogo que pode explicar a necessidade de espalhar o esperma — em prol da espécie. Ele é um filósofo da civilização, um profundo pensador da questão do que as mulheres realmente querem — e ele pensa pensamentos antigos, pensamentos violentos, pensamentos escravistas. Ele pensa profundamente, sem autoconsciência. Ele é um guardião da tradição, um guardião dos valores: ele pune a transgressão, e a mulher do lado de fora transgrediu a única fronteira estabelecida para mantê-la a salvo dos homens em geral, para mantê-la privada dele.
Se ela estivesse em casa, como deveria estar, não estaria perto dele. Se ela está perto dele, a pergunta dele é por quê; e sua resposta é que ela está se disponibilizando — por um preço. Ela está lá por dinheiro. O local de trabalho é onde uma mulher vai vender o que tem por dinheiro. Seus salários sugerem que suas habilidades profissionais não representam muito. Indiscutivelmente, ela é barata.
Isso nos surpreende, esta suposição subjacente de que somos prostitutas. Aqui estamos nós, por nossa própria conta, finalmente, tão orgulhosas, tão estupidamente orgulhosas. Aqui está ele, um conquistador, ele pensa, um covarde e um bully, nós pensamos, usando o poder para coagir o sexo. Nos sentimos humilhados, constrangidos, envergonhados. Ele se sente bem. Ele se sente certo. Principalmente: ele se sente viril. E, claro, ele é.
Agora eu tive essa experiência. Em meu trabalho, descrevi as filosofias sexuais de Kinsey, Havelock Ellis, de Sade, Tolstoi, Isaac Bashevis Singer, Robert Stoller, Norman Mailer e Henry Miller. Cada um tem uma ética do direito masculino ao corpo da mulher. Cada um celebra a agressão sexual masculina contra as mulheres como um componente intrínseco de uma masculinidade natural, valiosa e venerável. Cada um deles sugere que as mulheres devem ser conquistadas, tomadas pela força; que as mulheres dizem não, mas querem dizer sim; que sexo forçado é sexo extático e que as mulheres anseiam por dor.
Eu escrevi sobre o gimnocídio das bruxas, mil anos de pés-chineses, estupro em série e assassinato em série.
Escrevi sobre a misoginia na Bíblia e na pornografia, sobre a defesa do estupro na psicologia da supremacia masculina, teologia, filosofia, sobre a crueldade de dominação e submissão, inclusive no intercurso.
Em todo caso, usei o discurso dos homens como fonte, sem distorcê-lo. Eu já disse o que os homens disseram sobre as mulheres, sobre a natureza do sexo, sobre a natureza da natureza. Os homens continuam sendo heróis culturais, contadores da verdade prometeica. Certamente, eles não pretendem nenhum mal. Sou escoriada (com certeza eu pretendo causar algum mal) por dizer o que eles dizem, mas emoldurando em um novo quadro que mostra as consequências para as mulheres. Aquelas a quem eles fazem isso foram deixadas de fora. Eu coloco aquelas a quem eles fazem isso de volta.
Ao expor o ódio que os homens têm às mulheres, é como se fosse meu. Dizer o que eles fazem é ser o que eles são, exceto que têm direito, estão certos naquilo que fazem e no que dizem e como se sentem. Talvez eles sejam trágicos, mas eles nunca são responsáveis: por serem mesquinhos, cruéis ou estúpidos. Quando eles defendem o estupro, isso é normal e neutro. Quando digo que eles defendem o estupro, estou me envolvendo com o equivalente a um libelo de sangue (esse é o significado da acusação de “misandria”); eu os calunio como se eu tivesse inventado o sadismo, a brutalidade, a exploração em que eles se envolvem e defendem.
Agora: homens descrevem sua masculinidade como agressiva, essencialmente estupradora. Feministas desafiaram o próprio estupro. Temos agitado por mudanças na lei para que possamos processar todos os atos de sexo forçado. Os homens continuam falando como se fossemos irrelevantes; eles dizem que a força é uma parte natural do sexo e uma expressão normal da masculinidade. Nós dizemos que força é estupro. Os homens continuam a racionalizar o uso da força no intercurso como se a força indicasse o grau de desejo, a intensidade do impulso.
Feministas são acusadas de odiar sexo (estupro) porque odiamos sexo forçado. Somos acusadas de confundir o crime horrível de estupro (estupro com a maior brutalidade imaginável) com relação sexual (que envolve menos força, embora os homens não digam quanto menos…), tornando impossível processar um estupro real, um estupro horrível (estupro feito por outra pessoa) porque a força que um bom rapaz [eu] pode usar pode ser confundida por alguma mulher mal-humorada ou burra com a pior força usada por um estuprador de verdade [não eu].
Até cerca de 20 anos atrás, os homens faziam o que queriam e chamavam aquilo do que bem entendiam. Eles decidiam todo significado e valor. (Nem todos os homens decidiram todo o significado e valor; mas os homens, não as mulheres, decidiram.) Eles poderiam descrever o sexo como conquista, violência, violação e a si próprios como estupradores (sem usar a palavra), porque nunca eram responsáveis pelo que nos disseram ou fizeram. Homens eram a lei; homens eram morais; homens decidiam; homens julgavam. Agora nós saímos de dentro deles, pelo menos um pouco.
Nós os vemos possuindo e nomeando. Nós temos uma nova distância crítica. Por mais ferrado que fosse o lugar, nos soltamos um pouco, e vemos o rosto onde antes só sentíamos a respiração pesada. Vemos a sobrancelha arqueada no esforço, os músculos do cérebro flexionando-se no que passa pelo pensamento: descontando-nos, ignorando-nos, ignorante de nós, celebrando o estupro e deixando de lado o custo para nós.
Nas duas últimas décadas, feministas construíram uma resistência política real ao domínio sexual masculino, por exemplo, para a propriedade masculina de todo o vasto mundo; e é claro que não estamos dizendo “não” porque queremos dizer “sim”. Queremos dizer não e nós processamos esses porcos para provar isso. Mais e mais de nós, mais e mais.
Nós processamos e processamos nossos pais, amantes, chefes, médicos, amigos, assim como o onipresente estranho. Apesar de toda nossa ousadia cultural, os homens aprenderam que “não” pode significar “não” porque nós os levamos ao tribunal. Tudo começou como um boato. O boato se espalhou. As vadias estão muito bravas.
Usos de força que os homens consideram naturais, necessários e justos estão sendo confrontados por mulheres que entendem esses mesmos usos da força como violações intoleráveis sem qualquer extenuação possível. Em 1991, dois eventos esclareceram o estado de conflito entre a hegemonia sexual masculina e a resistência política feminina: Anita Hill acusou Clarence Thomas de assédio sexual; e William Kennedy Smith foi processado por estupro.
Clarence Thomas foi indicado por George Bush para a Suprema Corte, um conservador afro-americano cujas origens eram rurais e pobres, no sul segregado. Anita Hill era uma professora de direito que veio do mesmo background. Thomas era seu superior na EEOC, a agência administrativa responsável por perseguir denúncias de assédio sexual e outras violações dos direitos civis. Em outras palavras, Clarence Thomas estava encarregado de reivindicar os direitos das vítimas. Seu registro na EEOC foi de extrema letargia. As feministas viam uma relação entre seu histórico, uma relação má, e seu próprio comportamento como alegado por Anita Hill — ele era um perpetrador.
Hill descreveu um padrão contínuo de agressão verbal, especialmente a recontagem de filmes pornográficos que mostravam estupro, mulheres sendo penetradas por animais e mulheres de seios grandes. Em uma incidência de assédio, Thomas perguntou quem havia deixado um pelo pubiano em uma lata de Coca-Cola. Hill não conseguia entender a observação, mas aquelas de nós que estudam pornografia identificaram imediatamente: há filmes em que as mulheres são penetradas por latas de bebida.
O Sr. Thomas falou sobre o tamanho de seu pênis e sua capacidade de dar prazer às mulheres através do sexo oral. Essas confidências foram forçadas à Sra. Hill no local de trabalho, em particular, sem testemunhas. Hill era o alvo escolhido por Thomas, uma afro-americana inteligente e ambiciosa, cujo futuro estava ligado ao seu. No sentido estrito, seus destinos políticos estavam ligados. Ele era o favorito dos republicanos e ela podia viajar com ele: para cima.
No sentido mais amplo, como um conservador afro-americano, ele foi pioneiro no caminho para outros conservadores negros, especialmente mulheres que seguiriam porque não poderiam liderar — Bush não demonstrou nenhum interesse nem mesmo no empoderamento simbólico de mulheres afro-americanas.
Os ataques verbais humilharam Patrícia Hill e afundaram seu rosto em seu status sexual. Eles enfatizaram o servilismo que era ser mulher. Eles a colocaram em seu lugar, que era debaixo dele; no escritório; no filme; na vida — a vida dela.
Anita Hill testemunhou perante o Comitê Judiciário do Senado e quatorze homens brancos evadiram as questões levantadas por seu testemunho. Senadores de direita, com habilidades de diagnóstico hábeis, disseram que ela era psicótica. Ele era um lunático se tivesse feito aquilo, mas não podia ser um lunático e, portanto, não poderia tê-lo feito. Ele teria que ser moralmente degenerado para assistir a tais filmes e ele não podia ser moralmente degenerado. Eles estalaram tentando dizer o que ela deveria ser — para trazer as acusações. Psicótica foi a conclusão mais gentil.
Senadores de esquerda, supostamente para destruir o conservador negro, Clarence Thomas, por qualquer meio necessário, não lhe fizeram perguntas sobre seu uso de pornografia, embora as respostas pudessem justificar Anita Hill. O assunto foi pouco mencionado e não foi perseguido.
As alegações de assédio sexual foram essencialmente ignoradas; elas foram enterradas, não expostas. Painéis de mulheres foram apresentados para dizer que Clarence Thomas não as tinha assediado sexualmente. Quando eu roubar meu vizinho, quero que todos os vizinhos que não roubei sejam chamados para testemunhar. Eu sou muito gentil com meus vizinhos, exceto aquele que eu roubei.
O presidente do comitê, democrata Joseph R. Biden Jr. de Delaware, que está patrocinando o primeiro projeto federal para tratar estupro e agressão como os crimes sexuais que eles são (a Lei da Violência contra as Mulheres), disse que as coisas terríveis sempre vêm à sua atenção durante as audiências de confirmação. Ele mencionou especificamente as acusações de agressões de esposas (a “violência” da Violência Contra as Mulheres). A imprensa ignorou essa informação; ninguém exigiu saber quais homens foram condenados pelo Comitê Judiciário do Senado e então todo o Senado espancou suas esposas. Foi relatado que o próprio Clarence Thomas espancou sua primeira esposa, uma mulher afro-americana, embora ela não tenha se apresentado para fazer a acusação em público.
Clarence Thomas foi condenado e agora é um juiz da Suprema Corte.
Bush deu várias entrevistas nas quais deplorou o testemunho sexualmente explícito. Suas netas, ele disse, podiam ligar a televisão e ouvir essa conversa suja. Ele não parecia se importar com o comportamento sujo ou o fato de ter institucionalizado esse comportamento ao colocar um pornófilo acusado na corte que faria a lei que governaria suas netas. Se Clarence Thomas gosta de filmes em que as mulheres são fodidas por animais, as netas de George Bush, como o resto de nós, estão em apuros.
Como os catorze homens brancos do Comitê Judiciário do Senado não perguntaram, não sabemos se Clarence Thomas ainda usa pornografia. (Isso pressupõe que ele diria a verdade, o que é pressupor demais. Ele declarou sob juramento que nunca havia discutido Roe versus Wade, a decisão de legalizar o aborto nos Estados Unidos. Meu gato não discutiu isso.) Os amigos de faculdade de Thomas confirmaram que ele usava pornografia quando estava na faculdade de direito em Yale (1971–1974).
Então, e mesmo no início dos anos 1980, quando Anita Hill alega que ele detalhou os cenários pornográficos para ela, a pornografia mostrando mulheres sendo penetradas por animais ainda estava no underground. Estava disponível em filmes nas bancas de livrarias para adultos e apresentações de sexo ao vivo. Um homem vai para a parte de prostituição e pornografia da cidade; ele encontra o local certo; ele ocupa uma barraca privada com as fileiras de filmes — mulheres sendo fodidas por animais ou mijadas ou açoitadas; ele continua depositando fichas ou quartos para ver o loop de filme, que continua repetindo; quando ele sai, alguém limpa a barraca — normalmente ele deixa sêmen.
Clarence Thomas afirmou a privacidade absoluta do que ele chamou de seu quarto quando um senador abordou o tema da pornografia. Se ele usou a pornografia quando seus amigos disseram que ele usou, seu quarto inclui muita geografia. Esse é um grande quarto. O padrão patriarcal que o governo Bush quer defender é familiar:
a privacidade do homem inclui qualquer ato sexual que ele queira fazer com as mulheres onde quer que ele queira fazê-lo; a privacidade de uma mulher nem se estende aos seus próprios órgãos internos.
A pornografia que Clarence Thomas foi acusado de usar é viciosamente ódio às mulheres; é o equivalente a KKK para destruir as mulheres por diversão, aniquilar as mulheres por esporte. O presidente usou todos os recursos ao seu dispor para defender a indicação de Thomas. O mesmo aconteceu com os senadores de direita. Os liberais sacrificaram as mulheres deste país aos imperativos habituais do vínculo masculino.
Quantos — de esquerda, direita ou centro — assediam as mulheres com baixos salários e baixo status que trabalham para eles (eles se isentaram do alcance das leis de assédio sexual)? Quantos usam pornografia? Quantos, de fato, agridem fisicamente as suas esposas?
William Kennedy Smith, trinta anos, um homem branco rico, recentemente formado na faculdade de medicina, sobrinho do senador Edward M. (Ted) Kennedy, foi processado por estupro em dezembro de 1991. A mulher que o acusou era branca, com idade e status social aproximados. Mãe solteira de uma criança. Eles se conheceram em um bar chique em Palm Beach, na Flórida, Smith acompanhado por seu tio e seu primo Patrick, um legislador estadual de Rhode Island. A mulher foi com Smith para a casa dos Kennedy em Palm Beach. (Quem não pensaria que era seguro? Qual cidadão não iria?)
Segundo ela, Smith abordou-a e se forçou a ela. A defesa dele era que ela tinha tido relações sexuais. O júri acreditou e absolveu-o com menos de uma hora de deliberação. Ele tinha uma história consistente; ela tinha lapsos de memória.
O juiz recusou-se a permitir o testemunho de um especialista em trauma de estupro que teria explicado quão comuns são as perdas de memória em vítimas de estupro. O julgamento foi televisionado. O rosto da mulher estava obscurecido da vista.
O choque para a nação, o choque para os homens da classe dominante, o choque no domínio masculino foi que Smith foi processado. As feministas chamam o estupro de crime ou estupro por alguém conhecido. Nos bons velhos tempos, nos anos 50 e 60, bem como na cidade-estado ateniense, o estupro era um crime de roubo; a mulher pertencia a um homem, seu marido ou pai; e estuprá-la era como quebrá-la, quebrar um vaso, um vaso valioso; a propriedade do homem foi destruída. Até duas décadas atrás, homens estupraram mulheres e homens e administraram as leis contra o estupro.
A lei do estupro protegia os interesses dos homens das agressões de outros homens; punia homens por sair da linha tomando uma mulher que pertencia a outra pessoa.
Com o advento do movimento das mulheres, o estupro foi redefinido como um crime contra a mulher que foi estuprada. Isto parece simples, mas na verdade anulou mais de dois mil anos de lei de violação da supremacia masculina.
Para que o crime tivesse acontecido com ela, ela tinha que ser alguém (quando aconteceu com ele, ela era alguma coisa). Para que ela fosse alguém, a lei tinha que revisar sua estimativa sobre o lugar dela: de propriedade para pessoa por direito próprio. Como pessoa, então, ela começou a dizer o que havia acontecido com ela, no tribunal, mas também em livros, em reuniões públicas, entre mulheres, na presença de homens. Ela começou a dizer o que tinha acontecido, onde, como, quem tinha feito, quando, até por quê.
A antiga lei do estupro, aparentemente, mal tocava na realidade do estupro. O crime havia sido definido pelo interesse masculino. Os homens exigiram como padrão legal que as mulheres estivessem preparadas para morrer em vez de se submeterem; esse grau de resistência era necessário para mostrar, para provar, que ela não consentira; seus ferimentos visíveis tinham que provar que ela poderia ter morrido, porque ele a teria matado. Resistindo menos, ela seria responsabilizada por qualquer coisa que ele tivesse feito com ela. Seu testemunho tinha que ser corroborado — por testemunhas ou por evidências físicas tão esmagadoras a ponto de serem incontroversas.
A presunção legal era de que as mulheres mentiam, usavam falsas acusações de violação para punir os homens. Um dos propósitos das leis era proteger os homens de mulheres vingativas, algo que era pressuposto sobre todas as mulheres que faziam acusações de estupro.
Na prática, todo esforço era feito para destruir qualquer mulher que processasse um estuprador.
A história sexual de uma mulher era usada para indiciá-la. A premissa sempre era de que mulheres desgarradas — prostitutas, vadias, mulheres sexualmente ativas — não podiam ser estupradas; que a mulher pública era para consumo sexual, no entanto alcançada, por dinheiro ou pela força; que qualquer mulher que “fez isso” era sujeira, assumia o status do ato em si (sujo) — que ela não tinha nenhum valor que a lei requeria para honrar ou proteger. Se uma mulher não pudesse provar sua virtude, ela poderia ser considerada culpada pela falta dela, o que significava absolvição do estuprador.
Empiricamente falando, não importava se ela tivesse sido forçada a fazer o que se supunha que ela ficaria feliz em fazer de qualquer maneira — mesmo sob circunstâncias diferentes ou com outra pessoa.
Se o advogado do estuprador pudesse mostrar que a mulher havia feito sexo — não era uma virgem ou uma esposa fiel –, ela se mostrava sem valor. Ninguém puniria o acusado, prejudicaria sua vida, pelo que ele fizera com um pedaço de lixo — a menos que precisasse ser castigado por alguma outra razão, por exemplo, sua raça, arrogância social ou alguma outra razão de bode expiatório, caso em que ela seria usada para afastá-lo.
As reformas pareciam tão pequenas; francamente, tão inadequadas. Precisamos de mais e melhor, mas as mudanças tiveram um impacto.
As regras de julgamentos foram alteradas para que o histórico sexual prévio da mulher fosse geralmente inadmissível: a corroboração não era mais necessária — o testemunho da mulher podia valer por si só. Os procedimentos envolvidos na coleta e manutenção de evidências físicas foram examinados e padronizados para que tais evidências não fossem perdidas, contaminadas ou adulteradas. Antes, as evidências tinham sido coletadas de maneira aleatória, dando ao violador uma grande vantagem pela absolvição. Médicos em salas de emergência e policiais foram treinados em como tratar vítimas de estupro, como investigar por abuso sexual. Abrigos de crise de estupro foram criados, alguns em salas de emergência de hospitais; estes davam aconselhamento especializado às vítimas e um apoiante ao lado das vítimas ao lidar com a polícia, os médicos, os promotores, ao passar pela provação de um julgamento, em sobreviver ao trauma do evento em si. Em alguns estados, a definição de consentimento era alterada de modo que, por exemplo, se uma mulher estivesse bêbada, não poderia dar o consentimento legal (em vez do jeito antigo: se estivesse bêbada, ela consentira para o que tivesse sido feito com ela; ela merecera tudo o que lhe tinha sido feito). As leis que protegiam o estupro no casamento — o direito de um marido penetrar em sua esposa contra sua vontade, à força — foram alteradas para que o intercurso forçado no casamento pudesse ser processado como se fosse o mesmo: o ato de estupro.
“Mas se você não pode estuprar sua esposa”, protestou o senador Bob Wilson em 1979, “quem você pode estuprar?” A resposta é ninguém.
E as mulheres começaram a processar estupradores, inclusive maridos, sob a lei civil: para expor o crime; para obter danos monetários. A lei continua inclinada a favor do estuprador.
Por exemplo, as condenações anteriores por violação não são admissíveis como prova. A mulher quase sempre parece errada, estúpida, venal e os preconceitos contra as mulheres — como as mulheres devem se vestir, agir, falar, pensar — são virulentos, quase perturbados por qualquer padrão justo. A maioria dos estupradores é absolvida. Normalmente, isso significa que a mulher é informada por um júri, como Smiths acusou, que ela teve relações sexuais. (Em alguns casos, o júri absolve porque acredita que o homem errado foi preso; aceita que a mulher foi estuprada.)
A absolvição que declara que não foi estuprada, manteve relações sexuais, mantém e reifica a visão patriarcal de estupro
A absolvição que declara que não foi estuprada, manteve relações sexuais, mantém e reifica a visão patriarcal de estupro: um ato monstruoso cometido por um monstro (invariavelmente um estranho), é um excesso de violência fora da força sancionada na relação sexual; a mulher está, de fato, sujeita a tanta violência que ninguém poderia interpretar sua submissão como voluntária ou achar que ela estava a seu próprio convite, para o seu prazer. Só um pouco de violência não tira o ato do domínio da relação normal para os supremacistas do sexo masculino porque, para eles, o sexo às vezes é uma dança malvada, e a agressão contra a mulher é apenas uma maneira rápida e máscula de dançar.
O progresso está nisto: que, cada vez mais, as incursões contra as mulheres são processadas como violação; que estupro é agora um crime contra a própria mulher; que o uso da força é suficiente para justificar uma acusação (senão uma condenação); que alguém com quem você está saindo, um amigo, um conhecido, será processado pelo uso da força — mesmo que seja rico, mesmo que seja branco, mesmo que seja médico, mesmo que sua família seja poderosa e leonizada.
E o progresso também está nisto: que uma mulher poderia sair, do lado de fora, passar pela periferia, à noite, até um bar, conversar com homens, beber — uma mulher que havia sido abusada sexualmente quando criança, que tinha sido garota de programa, que havia feito três abortos — e ainda assim, a força usada contra ela era compreendida como estupro — pelos promotores, durões que não gostam de perder.
As feministas alcançaram o que equivale a uma vasta redefinição de estupro baseada na experiência das mulheres de como, quando e onde somos estupradas — e também por quem.
E conseguimos uma avaliação revisada da vítima de estupro — alguém, não algo. A sociedade masculina, antes imperial em sua autoridade sobre mulheres e estupro, tendo operado no princípio absolutista do direito divino dos reis, não tomou a mudança com boa graça.
“Feministas”, diz a revista de direita National Review (20 de janeiro de 1992), “tentaram reforçar a probabilidade de condenação inventando o conceito de ‘estupro’, que significa não apenas estupro cometido por uma garota de programa, mas qualquer contato sexual que uma mulher se arrepende posteriormente.” O arrependimento, então, não a força, é a substância dessa acusação que pensamos; Como um flautista, nós lideramos e as crianças pequenas — a polícia, os promotores distritais — encantados com nossa música, seguem.
O escritor neoconservador Norman Podhoretz afirma que não existe estupro num encontro; que as feministas, a fim de tornar os homens sexualmente disfuncionais, estão colocando restrições injustas, não naturais e irracionais à masculinidade. Há “uma necessidade masculina de conquistar”, um “impulso sexual masculino sempre inquieto” em conflito com os “impulsos eróticos muito mais inertes” das mulheres (Comentário em outubro de 1991) — nós não colocamos pressão?
Em outras palavras, o chamado estupro é, na verdade, um intercurso normal usando força normal, incompreendido por mulheres que são enganadas por feministas ao pensar que foram forçadas (estupradas) quando acabaram de ser fodidas (forçadas).
O Sr. Podhoretz me destaca como um exemplo particularmente nocivo de uma feminista que repudia as mulheres sendo fodidas à força, chame como preferir; eu sou indecente, broxante e misândrica na minha recusa em aceitar a força masculina e a conquista masculina como algo divertido.
O liberal Tikkun elogia o Sr. Podhoretz por tentar me derrubar; então, com pouca lógica, mas brilhante arrogância, afirma que “a base psíquica de tanto neoconservadorismo” tem sido “o medo do poder das mulheres, o medo de que as vontades e desejos das mulheres tenham que ter peso igual aos dos homens” (novembro/dezembro de 1991). Eu não sou mulher? O que incomoda a Tikkun?
No The Wall Street Journal (27 de junho de 1991), o professor de Berkeley Neil Gilbert, um homem muito zangado, seriamente apoiado, afirma que mentimos sobre o estupro como uma maneira de mentir sobre os homens. Em particular, mentimos sobre a frequência do estupro. Criamos estatísticas para “transmitir uma imagem da vida universitária que se assemelha ao mundo de “Thelma e Louise”, em que quatro entre seis homens são brutamontes e os outros dois são ligeiramente simplórios.” Fazemos isso porque temos uma agenda secreta: ‘mudar as percepções sociais do que constitui relações íntimas aceitáveis entre homens e mulheres… É um esforço para reduzir a complexidade impressionante do discurso íntimo entre os sexos à banalidade do “não é não”.’ Na verdade, ser forçado é bem banal. Hannah Arendt não escreveu um livro sobre isso?
“A complexidade impressionante” de embebedar uma mulher para fodê-la perdeu algum terreno, já que, se uma mulher está entorpecida, ela é incapaz de consentir em alguns estados.
“A complexidade impressionante” de possuir o corpo dela diretamente no casamento perdeu terreno porque o estupro conjugal é agora criminalizado em alguns estados.
“A complexidade impressionante” de levar uma mulher à prostituição através do sexo forçado, no entanto, ainda está de pé, parece, já que o incesto ou outro abuso sexual infantil parece ser uma precondição para a pornografia e prostituição.
Alegando que as estatísticas de estupro — estupro definido a partir da experiência das mulheres de coerção sexual nas mãos de um conhecido — criou uma “epidemia fantasma de agressão sexual” {The Public Interest, primavera de 1991), Gilbert se opõe ao financiamento de centros de crise de estupro nos campi universitários. Um comunicado de imprensa para o Sr. Gilbert orgulhosamente afirma:
Na mesma linha, quatro anos atrás, Gilbert criticou o treinamento de prevenção de abuso sexual para crianças pequenas. Em parte, como resultado da pesquisa de Gilberts, o governador Deukmejian cancelou no ano passado todo o financiamento estatal para os programas de prevenção nas escolas.
A simplicidade impressionante do discurso público de Gilbert é mais venal do que banal: nem mulheres nem crianças devem ter qualquer recurso; mantém o discurso do estuprador incrível, mantendo a vítima desamparada e silenciosa.
A histeria masculina com os números de estupro (seu reconhecimento, estigmatização, punição) foi especialmente provocada na média por acusações de estupro nos campi universitários: onde os meninos se tornam homens.
Um número impressionante de jovens mulheres disse que os meninos não poderiam se tornar homens coagindo-as. Marchas de Retomar a Noite (Take Back the Night) e microfones abertos proliferaram. As mulheres nomearam estupradores e relataram estupros, embora os administradores das faculdades apoiassem principalmente o privilégio masculino. Mesmo os estupros coletivos raramente têm uma pena mais punitiva do que a penalidade por plágio.
Na Brown University, as mulheres escreveram os nomes dos estudantes do sexo masculino que as haviam coagido nas paredes dos banheiros femininos. Para os homens, os primeiros absolutistas em defesa da pornografia, isso sugeria um limite lógico para a liberdade de expressão. Parecia claro para eles. Em um perfil maliciosamente misógino de um estupro no Dartmouth College, Harper (abril de 1991) caracterizou o ativismo estudantil contra o estupro da seguinte forma: “Ativistas de abuso sexual estão fazendo oficinas para ajudar as estudantes a reformular a psique masculina”.
De fato, a ira masculina contra as acusações de estupro resultou na convicção de que os homens tinham direito aos comportamentos que constituíam as agressões; mas também que o comportamento viril, a própria masculinidade, exigia o uso da força, com a agressão como a dinâmica de ativação.
A redefinição do estupro baseada na experiência das mulheres de ser coagida é tomada pelos homens como uma subversão do seu direito de viver pacificamente e bem fodidos, em seus próprios termos. “A tendência nesta arena complicada da política sexual é definitivamente contra nós, cavalheiros”, adverte a Playboys Asa Baber (setembro de 1991). “Uma multidão de linchadores pode estar do lado de fora da sua porta. No caso de William Kennedy Smiths, a horda do linchamento já colocou a corda no pescoço dele. Bem, nem tanto. O rapaz tinha o melhor processo que o dinheiro poderia comprar.”
Essa raiva masculina também deriva da percepção de que as mulheres em idade universitária experimentam o que costumava ser coerção normal sancionada como estupro — estupro real. Essas acusações não são ideológicas. Elas não vêm da primeira geração dessas ondas feministas, as crianças mais-tristes-porém-mais-sábias que se perguntavam por que todos aqueles homens “PAZ AGORA!” coagiam e forçavam e o que isso significava.
A agressão masculina está agora sendo experimentada por mulheres jovens como violação. O coagir e forçar é considerado hostil e injusto, errado e podre. Esta é uma prova do sucesso dos feminismos em articular as experiências reais das mulheres, há tanto tempo enterradas em um silêncio imposto.
Nós, as mais velhas, olhávamos para nossas vidas — o sexo forçado que era simplesmente parte do que significava ser mulher, as circunstâncias em que a coação ocorria, quem ele era (raramente o famoso desconhecido). O homem encontra-se ao nosso redor celebrando a força como um estupro romântico; as leis masculinas protegem a força usada contra as mulheres no estupro e na agressão; nesse mundo muito hostil, enunciamos, em risco e com dor, o significado de nossa própria experiência. Nós chamamos isso de estupro. As mulheres mais jovens nos vingam.
Elas não estão desnorteadas como nós — atordoadas com o quão comum e banal é. Elas não são intimidadas pelo estuprador, que pode ser qualquer homem, a qualquer hora, em qualquer lugar. Elas estão traumatizadas pela força, como nós estávamos. A invasão indesejada as repele, como foi conosco. Mas ficamos quietas por muito tempo e mais além. Os estupros foram encobertos por tanto tempo, tantos sorrisos desesperados. As mulheres mais jovens sabem quais são os níveis de estupro. Elas cobram publicamente, publicam, processam, porque é a verdade. E, como os homens furiosos sabem, essas jovens são o futuro.
A estratégia masculina para minar a acusação é simples, ataques verbais semelhantes a um estupro às mulheres como mulheres: sobre a capacidade inerente das mulheres de dizer o que queremos dizer, saber o que aconteceu, dizer qualquer coisa verdadeira. A velha jurisprudência do estupro protegia os homens das acusações de estupro das chamadas mulheres vingativas (qualquer mulher que conhecessem).
Para minar a validade do caso de estupro, os supremacistas do sexo masculino afirmam que todas as mulheres são vingativas; que o caso de estupro era uma fantasia social vingativa, uma histeria coletiva, inventada por aquela massa de mulheres vingativas, feministas. Todo o espectro político, gênero masculino, afirma que as mulheres são analfabetas emocionais (outrora província dos homens; veja, eles podem aprender a abandonar o território).
A National Review definiu o estupro como qualquer sexo do qual uma mulher mais tarde se arrependeu. Mais de um ano antes, a Playboy (outubro de 1990) fez a mesma acusação (em um artigo escrito por uma mulher, estilo Playboy, para quebrar nossos corações):
…a nova definição de estupro dá às mulheres uma maneira simples de pensar sobre sexo que externaliza culpa, remorso ou conflito. Maus sentimentos depois do sexo tornam-se culpa de outra pessoa. Um encontro sexual é transformado em um evento unidirecional no qual a mulher não tem interesse, nem participação ativa.
Na verdade, o estuprador define o papel da mulher (a própria essência do estupro) e é sobre o tempo que a culpa foi externalizada. Ele também pode ter o remorso. Nós podemos compartilhar o conflito. A campanha de propaganda prolongada dos playboys contra os casos de estupro é anterior à reação do mainstream — geralmente a balela está em uma cópia editorial não assinada, não escrita pela garota simbólica. A Playboy tem o papel político de desenvolver o programa misógino que é então assimilado, digitado com uma mão só, em jornais de notícias para a esquerda e para a direita. O ponto de vista é o mesmo, National Review ou Playboy, com as revistas políticas de esquerda prestando mais atenção (às mulheres que gostam desse tipo de coisa) às sensibilidades feministas enquanto nos separam criticando nossos supostos excessos.
Subjacente a praticamente todas as críticas aos casos de estupro está a convicção de que as mulheres simplesmente não conseguem encarar terem tido sexo consensual. Um puritanismo genético (que viaja com o gene do trabalho doméstico) nos faz lamentar o tempo todo; e quando lamentamos, retaliamos — chamamos de estupro, assédio sexual, arrancamos a pornografia das paredes. Quando se olha para isso de qualquer lado, esses garotos não são grandes amantes. As mulheres não ficam estremecendo, implorando por mais (esperando para o telefone para que liguem). A mulher vingativa do velho tipo costumava querer que o homem ficasse, mas ele foi embora; ela retaliou por ter sido traída ou abandonada. A nova mulher vingativa — nos campi universitários, por exemplo — não consegue se afastar o suficiente dele; ela parece retaliar porque ele apareceu. Certamente, isso é diferente.
O privilégio masculino parece estar em jogo aqui, não o sentimento de arrependimento de qualquer mulher. (Esse é um clube da luluzinha diferente. Os homens com quem se quer dormir também podem ser cafajestes.) O arrependimento tende a ser uma emoção identificável, e até uma mulher burra (uma redundância no léxico da supremacia masculina) pode reconhecer. Levamos mais tempo para identificar o estupro banalizado, porque o uso de nós contra nossa vontade esteva muito protegido por muito tempo. Agora sabemos o que é isso; e ele também. Conte com isso.
O estupro e o assédio sexual surgiram juntos — em 1991, devido à coincidência das acusações de Anita Hill contra Clarence Thomas e à acusação de estupro de William Kennedy Smith; politicamente, porque cada um desses casos desafia o direito dos homens de ter acesso sexual a mulheres que não estão escondidas, a mulheres que estão fora de casa.
Tanto o estupro quanto o assédio sexual são, como diz Gloria Steinem, apenas vida — até que as mulheres os transformaram em crimes.
Cada um é defendido como prática masculina essencial, necessária à expressão da sexualidade masculina — ele persegue, ele conquista. A proscrita de cada um é repudiada por aqueles que defendem a sexualidade do estuprador como sinônimo de sexualidade masculina.
“Já basta”, escreve a garota contratada da Playboy, desta vez sobre assédio sexual (fevereiro de 1991). “Uma política de assédio sexual agressivamente veemente, seja no local de trabalho, no campus ou no ensino médio, difunde a mensagem de que há algo intrinsecamente maligno na sexualidade masculina. Ela prega que os homens devem manter suas reações (e suas ereções) bem encerradas, que qualquer remanescente dessa sexualidade (na forma de um olhar, um comentário, um gesto, até mesmo uma declaração de interesse) é potencialmente perigoso, doloroso e agora, criminoso.”.
As leis e políticas de assédio sexual são neutras em termos de gênero, de acordo com uma ética básica da lei contemporânea dos Estados Unidos. A existência das leis e políticas não indica os homens; mas o repúdio frenético indica os homens — é um repúdio da supremacia masculina à consciência, à justiça e, é claro, à igualdade.
Algumas feministas dizem “por favor”. Algumas feministas dizem “é pegar ou largar”. Mas são os defensores do privilégio masculino que dizem que é da natureza dos homens agredir as mulheres; que a sexualidade masculina exige tal agressão. Os defensores do privilégio masculino dizem que a sexualidade masculina é essencialmente estupradora. As feministas dizem que as leis contra o estupro e o assédio sexual são leis justas.
Nenhum homem consciente usará força contra uma mulher, nem usará seu poder para assediar, perseguir, humilhar ou “possui-la”. Homens criados em uma cultura estupradora, em conflito com ela, mas também tendo conflitos internos, querendo ser justos, querendo honrar a igualdade, não vão querer estuprar ou assediar sexualmente; essas leis estabelecerão padrões e mostrarão o caminho. Foi bondoso da nossa parte, e generoso, encontrar remédios de maneira honesta, sem derramar sangue.
Essas coisas foram feitas a nós. E elas vão parar.
Mas Thomas foi condenado e Smith foi absolvido. Agora a questão é: como podemos prendê-los? Pense.